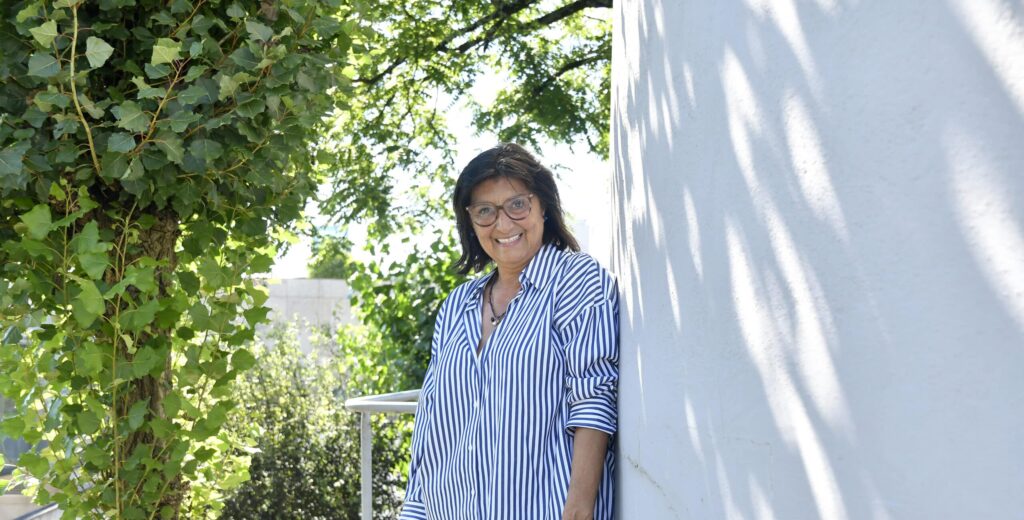
Por Flora Correia, Professora Catedrática convidada do Curso de Ciências da Nutrição da Universidade Lusófona, em Lisboa, e Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação.
A realidade de mais de quarenta anos a trabalhar num hospital central e quase trinta em hemodiálise leva-me a refletir sobre a existência de uma unidade curricular de suporte nutricional separada das disciplinas clínicas em que se estudam as patologias e as terapêuticas que lhes são adequadas. É difícil que este divórcio possa ser entendido no âmbito da necessidade e procura de abordar a nutrição de forma mais integrada. Uma abordagem independente do foco nas condições clínicas significa que, ao invés de estudar a nutrição no contexto directo das patologias (como nas disciplinas de nutrição clínica ou nas que tratam de doenças específicas), uma unidade curricular de suporte nutricional se concentraria em aspectos mais gerais da nutrição, pelo que ficaria sempre dependente de uma aplicação (posterior, entenda-se!) a patologias e condições clínicas específicas. Ou seja, ao invés de se elevar e autonomizar o suporte nutricional, está-se na realidade a relevá-lo para o plano das disciplinas básicas que, não obstante a sua extraordinária importância, carecem de posterior aplicação.
Mas afinal, por quê e para quê a criação desta unidade curricular? Alguns dirão: por marketing! Considero essa justificação pouco satisfatória, dada a complexidade da área das ciências da nutrição e tudo o que foi alcançado, recordando um pouco do percurso que até aqui chegarmos. Nos anos 80 do século passado só os médicos prescreviam suporte nutricional, quer entérico quer parentérico. Isto, apesar de esta prescrição ser feita geralmente sem adequada consideração das necessidades ou excecionalidades. Na verdade, mantenho a opinião que sempre tive, de que o importante nos doentes que necessitam deste tipo de suporte (ou de qualquer outra intervenção) é saber proceder a uma correcta avaliação de necessidades nutricionais, aliadas ao conhecimento do diagnóstico ou diagnósticos e um perfeito conhecimento e interpretação dos valores analíticos, assim como a existência de fármacos com interacções mais ou menos perigosas
Em 1984 introduzi no programa da então Alimentação Dietética algumas aulas de suporte nutricional, por considerar que os estudantes deveriam saber determinar e prescrever suporte nutricional, total ou suplementar. Inclusivamente, desde o início me preocupei em realçar os riscos associados à (má) utilização da nutrição parentérica, dado que a escassez de barreiras ao que é perfundido tanto facilita efeitos desejados como pode trazer consequências graves, por vezes fatais. Na época existiam poucos laboratórios e, logo, pouca escolha. Os diversos macronutrientes viviam isolados em frascos de 500 ou 1000 mL, aguardando também a visita de vitaminas, minerais e oligoelementos, sendo necessário realizar os cálculos das necessidades para depois tentar ir ao seu encontro com os produtos disponíveis. Recordo-me dos doentes por vezes com cinco frascos sobre a cabeça, a que se juntavam ainda os dos fármacos endovenosos, numa espécie de árvore de Natal terapêutica.
Ainda hoje recordo a primeira vez que, na visita (já altura multidisciplinar) do serviço a que estava alocada – Endocrinologia – ter sugerido a construção de um acesso venoso para realizar nutrição parentérica a um doente. Fez-se silêncio e um médico dos mais velhos pergunta-me: “Vai meter aquela coisa que parece leite na veia do doente?”, complementando com “Foi isso que matou o meu pai!” Apesar da minha tenra idade e pouca experiência, tinha estudado o suficiente para responder, o que fiz dizendo que certamente não teria sido isso a causar a morte, explicando de seguida o que era a nutrição parentérica, os seus benefícios e potenciais riscos, a necessidade de uma cuidada avaliação do doente e cálculo de necessidades, os cuidados a ter com a manipulação dos frascos, as osmolaridades dos diferentes macronutrientes e todos os demais argumentos e conhecimentos que levariam finalmente ao acordo de todos, na forma de um “Então vamos lá fazer o que sugere…”.
Na verdade, não precisei de ter no currículo do curso uma unidade curricular para que essa forma de actuar, com segurança nos conhecimentos que tinha adquirido, me desse o direito de prescrever. Os anos foram passando, o ensino da nutrição terá evoluído, todos os cursos passaram todos a “superiores”, e alguns sentiram a necessidade de incluir uma unidade curricular de “suporte nutricional” ou “nutrição artificial”, numa tentativa de poderem prescrever produtos vindos da farmácia e não apenas os do supermercado. Enfim… Esta atitude tornou-se prática comum, mas a verdade é que estes profissionais chegavam aos hospitais e faziam tudo menos terem autorização para prescrever suporte nutricional. Chegava-se ao ridículo de alguns profissionais saberem fazer os cálculos e avaliar os riscos, mas precisarem de ditar aos médicos o que deveria ser prescrito. Isso ainda hoje acontece em muitos hospitais: actualmente, muitos nutricionistas (licenciados em Ciências da Nutrição) continuam sem puder prescrever!
Tive o privilégio de fazer parte de várias equipas multidisciplinares de suporte nutricional e de prescrever, quer suporte entérico quer nutrição parentérica, ser responsável por todos os cálculos que depois eram discutidos com o sector de produção da farmácia para verificar a estabilidade química da mistura pretendida. Isto quando se começaram a fazer os denominados “sacos nutritivos”.
E tanta conversa, tanta memória (muitas mais haveria!) para quê? Para que se perceba que o suporte nutricional deve ser parte integrante das disciplinas clínicas. (Bem sei que a maior abrangência do termo “clínico” as incluiria, mas perdoem-me a falta de precisão pela mais fácil compreensão!) Isoladamente, o suporte nutricional existirá num vazio, alheado da experiência, promovendo uma viagem em sentido contrário aos daqueles que, no terreno, tratam doentes com comida hospitalar, suporte nutricional entérico oral ou por sonda, que se necessário calculam e combinam com nutrição parentérica ou os substituem completamente por esta. Daqueles que, num saber integrado, explicam a importância e o uso da nutrição parentérica intradialítica ou discutem o doente com quilotórax de cujo saco principal só correm glicose e aminoácidos, com os lípidos à parte e num valor que evite a síndrome carência de ácidos gordos essenciais.
Isoladamente, uma unidade curricular de suporte nutricional é como um carro sem pneus… ou melhor, como um pneu sem os outros três e sem carro para levar a algum lado. Isto é uma reflexão minha, mas que assenta em anos de experiência e luta. Discordo em absoluto de que estes conteúdos sejam desligados das unidades curriculares em que podem ser integrados numa abordagem completa a cada doente. Espanta-me que, seja suposta necessidade ou estratégia de marketing, tal ocorra numa época em que a chamada “fast-food” do suporte nutricional – variedade de sacos para quase todos os gostos – está disponível para prescrição. Numa época em que os cálculos estão facilitados, a segurança reforçada e a adequação dos produtos a casos concretos menos exige. E quanto ao marketing… nunca a faculdade pioneira do ensino da nutrição em Portugal precisou de estratégias tão descentradas dos interesses de estudantes e doentes.
Quem é rico não o diz, já quem é novo-rico precisa das etiquetas do que compra à mostra e de passar a vida a falar no que compra e em quanto gasta…!






